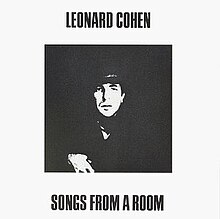A capa
No começo de 1970, o consultor financeiro dos Rolling Stones, Rupert Lowenstein, se reuniu com a banda, e anunciou: “acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro”. Perplexos, os cinco descobriram que, mesmo faturando alto em concertos e vendas de discos, em seis anos, eles perderam muito mais do que ganharam.
Pior: se somado o montante de despesas, os impostos atrasados e o que lhes esperava no ano fiscal de 1971 (o então primeiro-ministro da Inglaterra, Dennis Healey, preconizava um aumento de taxas para os ricos em cerca de absurdos 90%, o que gerou uma debandada geral), a sua situação com a Coroa Britânica e as contas a pagar iam leva-los à falência em menos de seis meses.
A saída, para Lownenstein, era continuar produzindo discos em escala fordista, sair da Inglaterra e exilar-se em algum paraíso fiscal, e montar uma mega-turnê, onde eles deveriam se apresentar em mega-estádios, de maneira a estancar aquela sangria. O melhor lugar para se realizar uma série de shows daquela envergadura eram os Estados Unidos. O exílio?
Mick Jagger sugeriu Vilefranche-sur-Mer, em Saint-Tropez, na Riviera Francesa.Após o lançamento do álbum Sticky Fingers e de uma turnê britânica “de despedida”, em pouco mais de um ano depois, em abril de 1971, os Stones finalmente embarcaram para o sul da França. Além da bagagem usual, a consorte de Keith Richards, Anita Pallenberg e a futura esposa de Jagger, Bianca, levavam respectivamente seus respectivos herdeiros, Dandelion e Jade. Mas quem estava de fato prenhe — porém de idéias — era Richards.
Há pelo menos dois anos, ele vinha produzindo música à mão cheia — em parte, sobras de discos anteriores, gravados no Olympic Studios, além do material recente, gravado com o auxílio da sua intrépida Rolling Stones Mobile Studio, tendo no volante o não menos intrépido Ian Stewart. O QG musical seria Nelicôte, uma mansão (aliás, durante a segunda Guerra Mundial, Nelicôte se tornou um “headquarters” dos nazistas, durante o governo de Vichy) com ar de vivenda campestre e com vista para o Mediterrâneo.
Com uma vista paradisíaca, um staff de filme de Cecil B de Mille, um invejável recanto para o Verão, além, é claro de heroína e ópio de excelente qualidade, vindo da África, e montantes de cocaína, direto de Estocolmo, e uma adega gigantesca no porão, não havia lugar melhor para os Rolling Stones produzirem a sua obra-prima, o Exile On Main Street.
Lançado em maio de 1972, o disco não foi muito bem recebido, por parecer cru demais, quase uma pré-produção muito mal mixada (Mick Jagger sempre se ressentiu do trabalho de finalização dos tapes, em Los Angeles), como tempo, iria se render ao álbum mais experimental e criativo do quinteto britânico.
Exemplo típico de um trabalho onde se misturam contexto e ambiente propícios, o Exile nasceu para ser eclético, coletivo e épico. Para começar, se o álbum tinha um mecenas, ele era Keith Richards.
Como ele era o anfitrião, todos acabaram tendo que se render ao seu ritmo de vida, aos seus hábitos exóticos e ao seu processo de composição. Claro que isso gerou uma série de problemas que, no entanto, deram o charme fundamental ao Exile.
Sem contar com outro detalhe: em pouco tempo, Nelicôte se transformaria num ponto de encontro de amigos e desgarrados que apostavam em Saint Tropez para uma visita. Já na sua autobiografia, Keith Richards conta que o maior problema era conseguir mander os Stones juntos. Muitas canções acabavam virando esqueletos prontos a serem recheadas a posteriori; outras, com efeito, eram gravadas com Keith e qualquer um que estivesse à mão, Jim Price, Jimmy Miller e seu fiel escudeiro direto de Lubbock Texas, Bobby Keys.
Charlie fez questão de alugar um chatô a mais de 100 cuilômetros de Nelicôte, e se submetia compulsoriamente a fazer a viagem quase diariamente. Mick sentir ciúmes do clã de Richards, mais especificamente de Gram Parsons. "Ele não podia deixar de ser ele o tempo todo", diz o guitarrista, tentanto explicar por que Jagger lha causava mais problema s de ciúme do que qualquer namorada ou até mesmo Anita.
Na maior parte das vezes, a maioria acabava entrando no espírito da coisa, e até participando das improvisadas sessões de gravação.
Em junho, a unidade móvel chegava, enquanto Richards e técnicos de som montavam um estúdio no porão. Como todo começo, iniciar as sessões foi um parto á fórceps. Tudo o que fora outrora planejado foi jogado para o alto. Wyman e Watts apareciam com sua pontualidade britânica, mas tinham que se acostumar com os sumiços repentinos e demorados de Keith. Jagger não conseguia se ficar em Saint Tropez, porque Bianca detestava Anita.
E nem mesmo a natural afinidade entre eles serviu para que as músicas aparecessem. A coisa começou a mudar quando Glyn Johns (produtor e um dos idealizadores do projeto da Rolling Stones Mobile Studio) apareceu para tomar o lugar de Jimmy Miller e, á convite de Richards, Gram Parsons aportou ne Vilefranche-Sur-Mer.
De forma substancial, eles iriam influenciar bastante na sonoridade de boa parte do som do álbum. Parsons, então, que era um dos expoentes do que viria a ser chamado de country-rock, devido ao seu conúbio musical com Keith, naquele momento histórico, depois dos Byrds e dos Flying Burrito Brothers, iria imprimir a sua indelével marca no Exile On Main Street.
Um dos fatores primordiais era o espírito informal das sessões: feito um mecenas, Keith pôde suprir-se de excelentes músicos que lá apareciam. Dessa forma, Nelicôte catalisou musicalmente a música que foi provocado por aquele êxodo involuntário.
Outro notório junkie e seu parceiro de copo e de colher, Parsons virou um meio irmão par Richards (Keith havia dedicado Wild Horses a Gram, que a gravou antes dos Stones, no Burrito Deluxe). Da inspiração de ambos, nasceram alguns dos melhores momentos do disco: entre eles, Sweet Virginia e Torn And Frayed. Tudo, porém, Keef way of life, ou seja, em ritmo de férias. Isso sem contar os constantes problemas com a fiação, que os obrigaram a puxar um gato de energia elétrica da companhia de viação férrea e o calor insuportável do estio francês.
Até a alta temperatura iria influir na sonoridade do álbum: como não havia ar condicionado no estúdio do porão, era mais do que comum que os instrumentos desafinassem sensivelmente, a todo o momento. Isso fez com que muitas das bases gravadas na França soassem fora do tom, e isso pode ser percebido em Casino Boogie e Turd On The Run, por exemplo.
No ápice das gravações, Bill e Charlie desertaram em vários momentos e muita gente, para economizar tempo e dinheiro, acabava passando o veraneio em algum aposento de Nelicôte. E Mick? Radicado agora em Paris, ele aparecia às vezes, quando conseguia uma folga de Bianca, para tratar de negócios e de participar das sessões (embora a maior parte dos vocais fosse gravado apenas nas mixagens finais, nos Estados Unidos) Como até Glyn sucumbiu ao estilo de Keith Richards.
Músicas brotavam; muita coisa nascia do acaso, como Ventilator Blues (parceria com Mick Taylor e cujo nome se explica, em parte) e Happy, uma dos mais simples e geniais números de Keith, e que o acompanharia sempre no palco por anos afora.
Com a quase deserção de Watts e Bill, quem estivesse à mão acabava ocupando a vaga deles (Richards, fulo da vida pelo fato de seu baixista fazer corpo mole e ir tocar com o Manassas de Stephen Stills (onde chegou a compor alguma coisa), resolveu apagar quase tudo o que ele havia produzido em Saint-Tropez). Jagger, porém, vendo que, em pouco tempo, todo mundo em Nelicôte estava ao ritmo de seu irmão Glimmer, resolveu dar um jeito na bazófia. Mandou Parsons embora.
Contudo, as coisas mudaram com o novo contexto: o outono chegou, a mansão havia se tornado num conjunto habitacional, as doideiras de Richards e Anita começavam a chamar a atenção, a polícia e a vizinhança estavam começando a desconfiar daquela trupe de mambembes, os dias passavam mais rápido e o prazo de entrega do futuro álbum parecia estar adiado para o Dia de São Nunca.
O estopim da crise foram escutas que o guitarrista descobriu, em seu telefone, em Nelicôte. Com o ambiente ficando cada vez mais pesado, Keef, que já estava cobrando aluguel de seus hóspedes, dado o tamanho da conta que era sustentar aquela brincadeira, resolve embarcar com os Stones para Los Angeles.
O objetivo era terminar o Exile antes que o contrário acontecesse. Na América, era a vez de Jagger tomar as rédeas do projeto, já que, depois de meses de tanta boleta, Richards não conseguia se concentrar sequer para fazer a slide em Torn And Frayed. Ao mesmo tempo, o contato com o soul norte-americano (e, sem dúvida, a influência seminal de Billy Preston, nessa fase da produção) fez com que o lado de Mick nas gravações se imbuísse dessa virtude.
Muito disso pode ser ouvido em momentos como Let It Loose, Lovin Cup (que, como ocorrera com algumas bases, como All Down The Line, fora iniciada ainda em 1969, no Olympic Studios e, pelo fato de ter sido gravada em parte durante a vigência do contrato dos Stones com a Decca, acabou gerando um litígio interminável entre eles e o ex-empresário, Allen Klein) Stop Breaking Bown e, principalmente em Shine a Light.
Nessa fase, aliás, Mick foi o diretor artístico incansável (em Los Angeles, ele também iria tratar da montagem da turnê americana de 1972, a segunda parte do projeto principal, e colocar todos os overdubs que faltavam nas bases gravadas em Vilefranche-Sur-Mer, durante as alegres férias de Keef & sua turma), suprindo com maestria a carência de seus parceiros com músicos de estúdio. Bill Plummer, por exemplo, fez o baixo em temas como All Down The Line e Rocks Off que, embora tenha sido a primeira a vir á lume, ainda em Saint-Tropez, só foi finalizada em cima da hora.
Outra típica do estilo político (polido) de Jagger é Sweet Black Angel, uma bela homenagem à Angela Davis, uma professora da Califórnia que, ao proteger três fugitivos de San Quentin, virou uma fora de lei. Símbolo de protesto pelos direitos civis na época do surgimento dos Panteras Negras, da escalada da violência nos protestos estudantis, perpretado pela repressão policial, somado ao fato de ser de esquerda e de cor, muitos seguiram sua causa, por a considerarem injustamente perseguida.
Uma vez presa, ela se transformou numa espécie de, mal comparando, uma Rubin Carter de saias. Declarada inocente, em fevereiro de 72, Mick fez questão de colocar Sweet Black Angel no lado B do primeiro single do Exile, Rocks Off, num libelo que é um dos melhores momentos do disco.
Tumbling Dice, o segundo compacto e um dos highlights do álbum (e a cara do Exile), foi concebida durante as gravações do Sticky Fingers, mas da base, montada no porão de Nelicôte, até a mixagem final, é um mash up: o riff é de Keith, Jimmy Miller toca bateria por cima da de Watts, Jagger faz a guitarra-base, Taylor o baixo (Wyman tinha ido embora) e os backing são de Clydie King e Vanetta Fields que, com Shirley Goodman (da dupla Shirley And Lee, lembram?), deram o ar bluesy a várias das canções do disco.
E com Tumbling Dice, agora os Stones tinham um número 1 nas paradas e o ambiente propício para o próximo passo: invadir a América, vender discos, lotar estádios e salvar o leite das crianças.
Link nos comentários